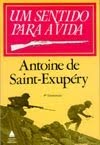O movimento militar vitorioso a 25 de Abril de 1974 deu origem, desde o próprio dia, à explosão de um movimento revolucionário de massa, um verdadeiro abalo telúrico que subverteu a ordem estabelecida a todos os níveis da sociedade. Ele tentou criar e articular novas formas democráticas de organização e expressão da vontade popular em milhares de empresas, nos bairros populares das periferias das cidades, nos campos do sul, nas escolas, nos hospitais, nos órgãos locais e centrais do Estado e até nas Forças Armadas. Um movimento revolucionário de massas que no seu processo, nos seus distintos períodos ofensivos, ocupou fábricas, as terras do latifúndio, as casas de habitação devolutas, descobriu a autogestão e o controlo operário, impôs a nacionalização da banca e dos principais sectores estratégicos da economia, saneou patrões e administrações, criou Unidade Coletivas de Produção para a Reforma Agrária e geriu a vida de milhares de moradores pobres de Norte a Sul do país. Um movimento que no seu ímpeto impôs na rua, pela sua própria força e iniciativa, como conquistas suas, as liberdades públicas, a democratização política do Estado, a destruição do núcleo duro do aparelho repressivo do anterior regime e a perseguição dos seus responsáveis, o direito à greve, a liberdade sindical, as bases de uma nova justiça social. Um mundo voltado de pernas para o ar, os 19 meses em que o futura era agora, um curto e raro instante em que as mulheres e os homens comuns, o povo do trabalho e da exploração, sonhou poder tomar o destino nas suas próprias mãos. A isso se tem chamado, e a meu ver bem, a Revolução portuguesa de 1974/1975.
Esta Revolução tem uma primeira e essencial particularidade a que normalmente se dá pouca atenção. É que ela é detonada por um golpe militar de características singulares na longa história dos golpes militares dos séculos XIX e XX em Portugal. Um movimento militar fruto do cansaço da guerra colonial que se arrastava há 13 anos, sem vitória possível e com graves derrotas à vista, travada contra os ventos da história, injusta e a prazo breve ruinosa. Num país impedido pela ditadura de se expressar e decidir livremente sobre este assunto, o descontentamento contra a guerra, numa dessas ironias em que a história é fértil, vai ser interpretado pelos jovens oficiais que a conduzem no terreno, os capitães e majores que comandavam as companhias, unidades matriciais da quadricula da ocupação militar colonial. Ou seja, não é um complot de generais, almirantes e coronéis (até ao fim fiéis ao regime e ao esforço de guerra, salvo raras exceções. É um movimento de oficiais intermédios a que, no processo, aderirão oficiais subalternos e milicianos. Uma conspiração que, no contexto de descontentamento popular crescente e no ambiente político e ideológico da época, rapidamente evolui dos objetivos corporativo-profissionais (que, aliás, o Governo satisfaz em Outubro de 1973) para um propósito político subversivo: de Setembro a Dezembro de 1973, dos plenários de oficiais de Évora ao de Óbidos, o movimento assumira claramente a consciência da necessidade de derrubar o regime. Sem democratização não haveria solução política para acabar com a guerra.
A rápida extensão e politização da conspiração dos oficiais intermédios, o seu controlo ou neutralização da maioria das principais unidades operacionais dos três ramos das FA no país, criava, assim, uma situação não imediatamente percetível mas decisiva: privava drasticamente o Estado e a hierarquia de força militar, ou seja, transformava-a, na realidade, e ao seu juramento de obediência ao regime, numa patética e inútil “brigada do reumático”. Numa cabeça sem corpo e sem consciência de o não ter. Mas retirava esse poder operacional, também, aos raros generais dissidentes convencidos que tinham na mão um golpe militar. As primeiras horas do “25 de Abril” e do seu rescaldo foram uma amarga surpresa tanto para os comandantes hierárquicos como para o general Spínola e os oficiais que o seguiam.
Disto decorre uma segunda característica central: a neutralização/anulação do papel tradicional das FA. A vitória do movimento dos oficiais intermédios, na realidade, rompe a cadeia hierárquica de comando das FA, subtrai-as ao controlo tradicional do Estado e das chefias por ele designadas, dessa forma paralisando a função das FA como órgão central da violência organizada do Estado. Nesse sentido, em rigor deixa de haver FA, sucedendo-lhe – o que era coisa bem distinta -, o MFA, que a breve trecho controlará o essencial do poder militar operacional mais relevante através do COPCON. Neste inicial período spinolista, até à sua derrota em 28 de Setembro de 1974, quando muito, há a luta desesperada dos restos da velha hierarquia (aliás largamente saneada na “noite dos generais” pelos oficiais do revoltosos, logo a 6 de Maio) para eliminar o MFA. A derrota do spinolismo consagra assim essa espécie de anulação das FA como espinha dorsal da violência do Estado.
Convém acrescentar que essa circunstância tem ainda uma outra consequência relevante: a paralisação, pulverização e enfraquecimento geral do poder e autoridade do Estado. O que emerge do golpe militar é um poder poliédrico de competências conflituantes e debilitadas: uma Junta de Salvação Nacional sem poder real nas FA, um Governo provisório sem poderes sobre as FA e com as forças policiais e ministérios paralisados, um Conselho de Estado de competências largamente retóricas e, fora desta lógica institucional (ainda que representada no Conselho de Estado), a Coordenadora do Programa do MFA, única sede de poder efetivo, mas em forte disputa com a fação spinolista nas FA e nos demais órgãos. O velho poder caíra, já não ameaçava ninguém, e deixava um campo indefinido e vulnerável a uma drástica alteração da relação de forças no plano social e político.
Finalmente, assunto que não desenvolverei aqui, o processo que se vem descrevendo tem um outro efeito: a cessação a curto prazo da guerra colonial nas três frentes e a formação, quer nos contingentes em África, quer na opinião pública portuguesa, de um forte movimento recusando novos embarques de tropas para as colónias, exigindo a litoralização do dispositivo militar e o regresso das tropas, pressionando pela imediata abertura de negociações com os movimentos de libertação nos termos por eles apresentados, ou, nas zonas de guerra, substituindo o combate pela confraternização com o “inimigo”. O exército colonial e a opinião pública recusavam-se a continuar a guerra. A descolonização irá ser negociada pelo MFA e o Governo Provisório, sem opinião pública, sem FA e sem apoio internacional para algo que não fosse a autodeterminação e a independência para os povos das colónias.
A conjugação dos fatores acima indicados (o apagamento da função das FA como garante central da “ordem” e a deliquescência do poder do Estado) com a forte tensão política e social acumulada no período final do regime marcelista, origina a explosão revolucionária. O movimento de massas, largamente espontâneo, por virtude de um desses “mistérios” que caracterizam as situações revolucionárias maduras para a ação, teve, na própria manhã do golpe – o emblemático desenlace do confronto na Rua do Arsenal terá tido nisso o seu papel – a dupla intuição que podia e devia tomar a iniciativa. A intuição do momento e a intuição da força própria: “é agora, porque agora somos mais fortes do que eles”. A compreensão quase intuitiva de que a correlação de forças, naquele momento indesperdiçável, era favorável à iniciativa popular. E de espectador, o movimento de massas passa a actor principal. Antes do golpe militar, por si só, não obstante a sua força e radicalidade, não conseguiria derrubar o regime. Mas agora agarrava a oportunidade que esse particular movimento militar lhe facultava, entrando de rompante pelas “portas que Abril abriu”. O golpe, ao contrário do que pretendeu a tentativa de A. Cunhal o recuperar para a velha narrativa do “levantamento nacional”, não era a expressão armada da “insurreição popular” (inicialmente quereria mesmo evitá-la…), não era a explosão revolucionária, todavia, pelas suas características particulares, contribuiria decisivamente para a desencadear.
Na sua imparável dinâmica inicial, entre Maio e Setembro de 1974, o movimento popular revolucionário conquista na rua, nas fábricas, nos bairros populares, nas escolas, nas zonas rurais, muito do essencial: os fundamentos da democratização política, as liberdades fundamentais, a liquidação dos órgãos de repressão e censura política e das milícias fascistas, muito antes de tudo isso ter consagração legal. A democracia política em Portugal não foi uma outorga do poder. Foi uma conquista imposta ao poder. O mesmo quanto à democratização social, o direito à greve, a liberdade sindical, o salário mínimo, as férias pagas, a redução do horário do trabalho e os fundamentos de um sistema universal de segurança social. O movimento de massas fez tudo isso enfrentando com os seus órgãos de vontade popular eleitos em plenários de fábricas ou assembleias de moradores, a oposição sistemática da Junta de Salvação Nacional (JSN), do Governo Provisório (GP) e do PCP e da Intersindical nessa fase investidos em guardiões da “ordem democrática” contra o “esquerdismo irresponsável” (ao jeito da I República, chegaram a convocar manifestações contra as greves). No entanto, foi a força desse movimento que se mostrou decisiva na derrota da 1ª tentativa contra-revolucionária do spinolismo, em Setembro, de alguma forma impondo o MFA como força político-militar hegemónica no processo
A partir de Outubro de 1974, a crise económica, o encerramento ou a pilhagem de muitas empresas pelos patrões em fuga, o disparar do desemprego, alteram e radicalizam os padrões de ação: os trabalhadores ocupam as empresas, e, a partir de Janeiro, as herdades dos agrários alentejanos e do Baixo Ribatejo, experimentam a autogestão ou exigem a intervenção do Estado ou do MFA, ensaiam várias formas de controlo operário e fazem-no através de Comissões de Trabalhadores ou de moradores por si eleitas. Manter as empresas a funcionar, derrotar a sabotagem económica, assegurar o emprego, cedo coloca a questão da nacionalização dos sectores estratégicos da economia (a começar pela banca). O propósito é conquistado no rescaldo da derrota da segunda tentativa contrarrevolucionária dos spinolistas, em 11 de Março de 1975. Aprova-se a nacionalização da banca (na prática dos grandes grupos financeiros) e legaliza-se a Reforma Agrária já em curso. O controlo operário está na ordem do dia. O processo revolucionário parecia dar um passo em frente. Na realidade, era o último.
Efetivamente, o heteróclito campo da revolução iria sofrer, nos meses seguintes, três derrotas sucessivas e determinantes. A primeira, com as eleições de Abril de 1975 para a Assembleia Constituinte. Não são só os modestos resultados do PCP (12,5%), do MDP (4,1%) e da UDP (0,7%): é alteração do critério legitimador do poder em redefinição. Na realidade, com as eleições de Abril 1975 legitimidade eleitoral impõe-se definitivamente sobre a legitimidade revolucionária. E a verdade é que o PS vencera as eleições constituintes com 37,8% dos votos. A revolução não tivera nem a capacidade de as adiar/anular como na Rússia de 1917 (o que era difícil num país onde a oposição fizera das eleições livres a sua bandeira de sempre), nem a força de as ganhar (como o chavismo venezuelano dos nossos dias). É precisamente a partir daqui, desta crise de legitimidade que nem a retórica tutelar do I Pacto MFA/Partidos consegue minimizar, que se inicia a rotura dos sectores intermédios com o processo revolucionário, argumentando contra a hegemonia totalizante que nele tendia a assumir o papel do PCP. Rompe-se o Governo Provisório com a saída do PS e do PSD (unicidade sindical, caso República) e explicita-se a crescente e já indisfarçável desagregação do MFA. A extrema-direita terrorista passa à ação em todo o país contra as sedes e militantes de esquerda e a hierarquia católica distancia-se do PREC a pretexto da ocupação da Rádio Renascença. Inicia-se a mobilização de massa contra o processo revolucionário com os grandes comícios e manifestações convocados pelo PS a favor de uma democracia parlamentar e “europeia” e as concentrações de apoio ao episcopado no Norte e Centro do país. Na realidade, em Julho de 1975, com a formalização do “Grupo dos 9”, está constituído, tendo como eixo os “Nove” e o PS, um campo político-militar de oposição e alternativo ao dividido campo revolucionário que lhe vai disputar, palmo a palmo, as posições-chave no aparelho militar e no Governo, como primeiro passo para o derrotar no plano da mobilização social. Um campo apoiado abertamente pela direita política e dos interesses, por sectores maoistas que reificavam o perigo de um regime tutelado pelo PCP e, mais na sombra, pelas, sabemos hoje melhor, largas ramificações da extrema-direita fascista e terrorista do ELP/MDLP e grupos afins.
Precisamente, a segunda derrota do campo da revolução socialista, em Agosto/Setembro de 1974, é o afastamento generalizado da “esquerda militar”, sobretudo da mais próxima de Vasco Gonçalves e do PCP, não só da liderança do Governo provisório como das fortes posições detidas no aparelho militar: é encerrada a v Divisão, Vasco Gonçalves é afastado de 1º Ministro e impedido de assumir o cargo de CEMGFA, Eurico Corvelo é demitido da chefia do RMN, os “gonçalvistas” são colocados em minoria no Conselho da Revolução perdendo 9 conselheiros, são readmitidos os conselheiros do “grupo dos 9”, o VI Governo é uma clara guinada à direita. Sobram Otelo e o COPCON, mas o cerco a este último núcleo do revolucionarismo militar começa de imediato. O que sai deste embate é uma substancial alteração da correlação de forças a nível político e militar: nas chefias e no Governo, instalam-se agora opositores ao curso revolucionário. Não era o fim, mas era o prefácio do fim
Com o processo revolucionário em curso, deter as cúpulas do poder político e até das chefias militares não era resolver a situação. Havia um movimento de massas disposto a lutar pelo que tinha conquistado. A “contra ofensiva das lutas populares”, como lhe chamará o PCP, será forte e prolongada, mas representa já, não obstante a sua capacidade de mobilização entre Setembro e Novembro, um processo claramente defensivo contra o “avanço da reação” e a iminência de um golpe militar, na realidade, em preparação a partir do “grupo dos 9” e desde a” limpeza” desse Verão. Considerar essa radicalização terminal, quase desesperada e sem orientação clara, como o “momento insurrecional” ou o “assalto final” ao poder do Estado, parece-me ser uma abordagem que nada tem a ver com a realidade. As importantes mobilizações desse período, de uma forma geral, não colocavam a questão da tomada do poder: reclamavam as posições perdidas (demissão de Corvacho, desativação do CICAP, silenciamento à bomba da Renascença, atentados bombistas…), denunciavam os planos político-militares, esses, sim, ofensivos, do campo contra-revolucionário, em suma, estavam à defesa e tentavam segurar o que tinham obtido. Isso não é incompatível, na ausência de um movimento de massas unificado e de uma direção política clara, com o deixar-se arrastar para a aventura golpista incipiente protagonizada pelos paraquedistas e as unidades do COPCON da Região Militar de Lisboa (RML) com o apoio de certos sectores sindicais afetos ao PCP e da militância da extrema-esquerda (ocupação das bases aéreas, de alguns pontos estratégicos da capital, da RTP e da EN). A 25 de Novembro, isso constituiu o pretexto há muito esperado para se desencadear o contra-golpe militar a sério. O que precisamente é revelador neste contexto é a surpreendente facilidade com que, praticamente sem resistência (excetuando o breve confronto na Polícia Militar), o Regimento dos Comandos subjugou, uma a uma, as unidades rebeldes. As escassas centenas de pessoas que as "defendiam" dispersaram e os seus chefes, disciplinadamente, se foram entregar ao Palácio de Belém. A terceira derrota era, agora, definitiva para o processo revolucionário.
O novembrismo está para a contra-revolução, como o movimento militar de 25 de Abril estive para a revolução. Ele não era a contra-revolução, mas a alteração da correlação de forças que impôs, abriu o campo a que ela paulatina, progressiva e constitucionalmente se instalasse como política dominante da situação pós-revolucionária. Dissimulada e prudente ela entrava pelas portas que Novembro abrira. A 25 de Novembro, o golpe ordena a prisão de 118 militares, saneava da RTP e da EN 82 trabalhadores e demitia as administrações e direções da imprensa estatizada, substituídas por gente do PS e PSD ou militares afins. Ao contrário do que pretendiam a extrema direita e certos sectores da direita, não houve prisões massivas de “vermelhos”, anulação das liberdades públicas, dissolução de partidos ou encerramento de sindicatos ou das suas publicações, O PCP manteve-se no Governo Provisório e a Constituição de 1976 consagraria o objetivo do socialismo, a irreversibilidade das nacionalizações, a Reforma Agrária, o controlo operário e o papel das CT.
Na realidade, o Grupo dos 9 negociara discretamente com o PCP uma contenção pactuada do processo revolucionário (o PCP travara no terreno os ativistas sindicais, os militantes civis e os militares arrastados para a aventura iniciada pelos paraquedistas) o que resultaria num processo obviamente distinto de uma clássica e violenta resposta contra-revolucionária. Um acordo que fazia a economia de uma contra-revolução sangrenta, mas em que os vencedores alteravam as regras do jogo em dois aspetos cruciais: impunham a consagração da legitimidade eleitoral sobre a legitimidade revolucionária e, sobretudo, liquidavam o MFA, repunham a hierarquia tradicional dos FA e, nesse sentido, anulavam a aliança essencial com esse braço armado de que dispusera o movimento popular no processo revolucionário. Regressavam as FA como espinha dorsal da violência legal do Estado. É certo que a revolução terminava. Mas deixava na democracia parlamentar que lhe sucedia a marca genética das suas conquistas políticas e sociais, dos direitos e liberdades que arrancara na luta revolucionária e cuja continuação impusera e defendia na nova situação política. É por isso que a equiparação esquemática que por vezes se faz entre a contra-revolução e a democracia parlamentar desconhece que, no caso português, ela é fruto do compromisso com um processo revolucionário que profundamente a marcou. Ao contrário do que afirma a direita política e historiográfica – em curiosa aproximação com o citado ponto de vista – a democracia política não existe em Portugal apesar da revolução, mas porque houve a revolução.
Há, portanto, e um ser e um não ser na revolução portuguesa de 1974/75. Ela teve a força de subverter a ordem estabelecida atingindo os fundamentos do próprio sistema capitalista, mas não conseguiu segurar e, menos ainda, aprofundar essas aquisições num poder socialista durável. Foi travada a meio caminho e perdeu boa parte das suas conquistas mais avançadas na contrarrevolução mansa que se estabeleceu com a “normalização democrática”. Ou seja, foi derrotada pelas formidáveis reações que despertou tanto nacional como internacionalmente. O que conduz à necessidade de tentar analisar, ainda que sumariamente, algumas das suas principais dificuldades de fundo.
Em primeiro lugar, a situação de “duplo poder” criada pelos milhares de órgãos de vontade popular eleitos nas empresas, nos bairros e nos campos do Sul pelos trabalhadores e moradores, nunca se constituiu numa organização nacional una e articulada. Muito menos, na sua dispersão, assumiu maioritariamente uma orientação política clara ou se colocou a questão da tomada do poder. Ao contrário do que acontece nos sovietes da Rússia de 1917 ou na revolução conselhista alemã de 1918/19, não há na revolução portuguesa um “poder popular” paralelo unificado, por isso se não colocou nunca, na prática, a questão de “todo o poder aos órgãos de vontade popular”. Até Julho de 1975 o PCP e a sua estrutura sindical opõem-se às CT e, antes e depois disso, cada grupo político da esquerda radical tem as “suas” CT e CM, as “suas” estruturas de articulação parcial, frequentemente guerreando-se entre si e com as que o PCP cria, finalmente, nesse Verão.
Em segundo lugar, na revolução portuguesa, os órgãos de vontade popular não estão armados, novamente num contraste essencial com as citadas experiências soviética e conselhista. Eles são apoiados por um aliado externo a si próprios, um movimento militar, ou parte dele, ou até por algumas unidades dessa parte, à medida que a esquerda do MFA se vai dividindo e subdividindo. Não há operários, camponeses e soldados em armas como alguns sectores da esquerda radical reclamavam. Aliás, o PCP e as organizações radicais de esquerda mantiveram organizações nas FA mais para influenciar os oficiais do MFA do que para promover o insurrecionalismo dos soldados. Nestes termos, há um processo revolucionário dos trabalhadores externamente apoiado, quando foi, por um movimento de oficiais crescentemente dividido e debilitado. A vulnerabilidade era evidente: se e quando a reação ao processo revolucionário lograsse reenquadrar o MFA na cadeia de comando das FA, eliminando-o, o movimento de massas, mesmo se se mantivesse, perdia a sua indireta expressão armada e subversora, retomando a natureza de movimento reivindicativo sem capacidade de colocar a questão do poder. Passava à defesa. Foi precisamente isso o que aconteceu
Em terceiro lugar, o campo político da revolução estava profundamente dividido sobre a natureza do poder a construir e os caminhos para lá chegar. E não houve, nem uma força claramente hegemónica susceptível de marginalizar as demais, nem a capacidade de encontrar uma plataforma mínima de ação comum (a própria FUP, Frente de Unidade Popular, constituída em 25 de Agosto de 1975 entre o PC e outros 7 grupos, já com propósitos claramente defensivos e sem parte dos maoistas, começa a desfazer-se 3 dias depois com a saída do PCP). A divergência central seria entre a estratégia cunhalista de progressiva ocupação do aparelho civil e militar do Estado, do MFA, das direções dos sindicatos e dos jornais/rádio/RTP, das autarquias, etc… quase sempre à margem de qualquer escrutínio democrático, de “cima para baixo”, e a orientação comum à esquerda radical de criar na luta de classes um “poder popular” capaz de partir ao assalto revolucionário do Estado. Mas mesmo no subcampo da extrema-esquerda, a guerra dos sectarismos em torno da “pureza” revolucionária era generalizada. E tudo isso, claro está, se reflete em cheio na coesão do MFA mais à esquerda, já em rotura com o “Grupo dos 9”.
Na realidade, uma das singularidades da revolução portuguesa que o preconceito ideológico de boa parte da historiografia sobre este período tende a ocultar, é que a extrema-esquerda, mesmo pulverizada e em guerra interna, teve a força social e política suficiente para impedir a hegemonia político-ideológica do PCP no processo, sem, todavia, lograr impor um caminho alternativo. Este impasse no campo da revolução abriu uma guerra no seu seio onde a violência sectária, frequentemente, não foi só verbal, dando lugar a agressões, saneamentos, manipulações e até a repressões massivas na tentativa de eliminar politicamente o campo maoista mais hostil ao PCP Este conflituoso bloqueio afastou, naturalmente, aliados sociais instáveis ou desiludidos, evidenciou impotência na resposta, exprimiu desunião e fraqueza, isolou o campo em si mesmo, e nele se hão-de buscar algumas das razões que levam à incapacidade de resistir com sucesso a contra-ofensiva no Verão de 1975 e ao que se lhe seguiu.
Concluindo, pode dizer-se com segurança que a revolução portuguesa não foi um assunto encerrado pelo novembrismo de 1975. A força telúrica que explodiu nesse “dia inicial inteiro e limpo” não bastou para vencer, mas permitiu-lhe, todavia, recuar lutando e condicionar fortemente o que se seguiu. É a partir da defesa, consolidação e alargamento desse património que ainda hoje se define a esquerda portuguesa.






























![Miguel Portas [Lisboa 1.5.1958 - Antuérpia 24.4.2012]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcy0piWeyNkFZzIF4Q-QPNz1VUiTGLJSQn_IbpM-BIYYZ6zdlMh_J_QwO6rQri8WCHYClkHwT-GVd_yLCphsqNpNDjiKkPW5tqpqbfytNYKJD87AEMgtb4JQRrVWh7zzDK64S53Zrsv2Aa/s1600/Miguel+Portas_+1958-2012_Eurodeputado.jpg)